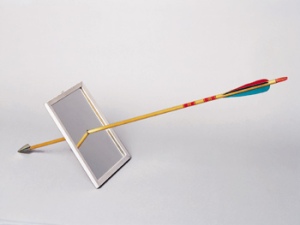Em 1968 eu levava uma vida confortável, ao lado de minha primeira mulher e meu primeiro bebê na nossa primeira casa, graças ao sucesso da minha primeira peça, e começava a ser visto pelos meus pares como uma pessoa politicamente ambígua.
Ainda faltavam alguns anos para que um conhecido diretor de esquerda, quando lhe perguntaram qual seria uma boa peça para montar no Royal Court Theatre, 1 respondesse “uma peça que não tenha sido escrita por Tom Stoppard”. Na ocasião, eu já tinha consciência de um sentimento que me afastava do espírito reinante de rebelião, quando era uma glória estar vivo naquele amanhecer, mas ser jovem é que era o barato.
O sentimento a que me refiro era o constrangimento. Eu me sentia constrangido com as palavras de ordem e as posturas de rebelião numa sociedade que, tanto em Londres quanto em Paris, progredira muito desde a juventude de Wordsworth, e oferecia aquele que me parecia o menos ruim dos sistemas em que uma pessoa podia nascer – a democracia liberal aberta, cuja essência era a tolerância à dissensão.
Eu não tinha nascido nesse sistema. E ninguém precisa ser um grande especialista em psicologia para deduzir que, na Inglaterra de 1968, 22 anos depois de lá ter chegado, eu me sentia muito mais disposto a defender meu país adotivo do que a apontar os seus defeitos. Até onde eu sabia, caso o meu pai tivesse sobrevivido à guerra (ele foi morto no Extremo Oriente), era sua intenção levar a família de volta para o lugar onde nasci, a Tchecoslováquia. Chegaríamos em 1946, e eu teria crescido sob a ditadura comunista que lá se instalou dois anos depois.
Como a maioria das pessoas, eu tinha noção que nem tudo eram flores nos jardins do Ocidente, e é claro que não conhecíamos – ninguém jamais conhece – da missa a metade. No entanto, quando em agosto as forças do Pacto de Varsóvia invadiram e ocuparam a Tchecoslováquia, num ato que era uma confirmação cabal e enfatizada da ocupação em curso na Europa Oriental, o meu constrangimento diante da “revolução” dos nossos polichinelos da agitprop converteu-se em repulsa.
O que me repelia era a identificação implícita entre dois casos radicalmente diversos. O “Ocidente livre”, sabe Deus, também estava muito desfigurado pela corrupção e injustiça, mas no nosso caso os abusos representavam as situações em que o modelo não funcionava, e eram apontados como exemplos das suas deficiências. Já no Leste, os abusos representavam o modelo em plenas condições de funcionamento. Quarenta anos mais tarde eu não faria essa distinção com a mesma facilidade, mas àquela altura nada me parecia mais claro.
Um pequeno incidente que deve ter confirmado as piores suspeitas cultivadas por alguns a meu respeito ocorreu quanto me pediram para assinar uma declaração contra a “censura” depois que um jornal se recusara a publicar o manifesto de alguém. “Mas isso não é censura”, respondi. “É decisão editorial. Na Rússia você vai preso se tiver um exemplar de A Revolução dos Bichos. Isso sim é censura.” A “normalidade” do comunismo baseava-se na distorção da linguagem, e o meu novo herói, George Orwell, já diagnosticara fazia tempo essa doença na sua própria sociedade, de maneira que eu levava esse tipo de coisa muito a sério.
E é claro, em seguida ainda houve Paris.
Lá por agosto, a fumaça do maio parisiense já tinha dissipado. Ocorreram batalhas ferozes entre milhares de estudantes e as forças policiais, seguidas por uma ocupação da Sorbonne e uma greve geral, que durou cinco semanas. Foram acontecimentos enormes, pouco diminuídos, do meu ponto de observação num chalé modesto à beira de uma autoestrada, pela adesão pressurosa de filósofos famosos, atores e outros luminares de uma cultura generosamente subsidiada pelo Estado. Mesmo após quarenta anos, les événements de 1968 ainda conferem à versão inglesa daquele ano, mais contida, certa ressonância para quem não quer admitir o que aconteceu em Praga, e se furta a discutir as razões daqueles fatos. Mas eu vejo a nossa “revolução” – a ocupação da London School of Economics e do Hornsey College of Art, além de toda a agitação daqueles dias embriagantes – como pouco mais que uma Saturnália.
E era justamente esta uma das coisas que eu mais amava na Inglaterra. A versão inglesa das erupções do Continente sempre sugeria um caráter nacional em pleno controle de si mesmo. Na França, na Alemanha, na Itália e na Espanha o ativismo político, nos casos mais extremos, acabou desembocando em assassinatos, seqüestros e atentados a bomba. Meu editor italiano, uma das pessoas mais sofisticadas, encantadoras e carismáticas que jamais conheci, seria morto mais tarde por seus próprios explosivos enquanto tentava destruir uma torre de distribuição de eletricidade nos arredores de Milão.
Alguns quilômetros do outro lado do Canal, os choques entre manifestantes e a polícia envolviam carros em chamas, ônibus virados e edifícios em ruínas. No nosso caso, brigar na rua era só tema de rock’n’roll. Aqui, a rebelião tinha algo de envergonhada. As manifestações exibiam sempre certo ar carnavalesco. As nossas reuniões – e fui atraído a algumas delas – eram convocações a sério em que moradores de prédios invadidos e as pessoas que mais tarde viriam a ser conhecidas como “formadores de opinião” planejavam mudar a sociedade fundando uma revista e discutindo formas de atrair o apoio dos “trabalhadores”. A fascinante peça The Party,3 escrita por Trevor Griffith e cuja ação se passa em 1968, encenada no National Theatre com Laurence Olivier no papel de um militante da classe trabalhadora chamado para uma reunião num endereço caro de Londres decorado com um David Hockney dos primeiros anos na parede, é para mim a perfeita cápsula do tempo sobre o lado chique de 68.
Mas nem tudo era elegante, evidentemente.
O “movimento”, como podia ser chamado, localizava-se mais numerosamente num cambiante submundo de acontecimentos artísticos – exposições, shows de música, happenings,